Me pergunto: ainda há tempo de salvar Julian Assange?
Na noite de 28 de novembro de 2010, testemunhei uma cena à qual, na época, dei pouco valor.
Já passavam das dez da noite quando o veterano jornalista de guerra Vaughan Smith deu ao nosso grupo seu presente especial, guardado para a celebração: uma gigantesca garrafa de champagne Chandon, dessas de cinco litros. “Ao Wikileaks”, brindamos. Sentada na mesa de madeira da cozinha, sua esposa, a jornalista cosovita Pranvera, vigiava a loucura em que se transformara o Twitter. A tela atualizava numa velocidade frenética: “Olha! É impossível ler o que estão escrevendo! Eu nunca vi isso, meu deus!”, dizia a quem passasse por ela. Apesar de ser o assunto mais comentado na rede, a palavra “Wikileaks”não apareceria nos Trending Topics naquelas semanas – a empresa deu uma desculpa esfarrapada e teve que publicar uma nota a respeito. Outras gigantes da tecnologia nascidas no Vale do Silício seguiriam no mesmo caminho.
A festa foi rápida e agridoce. No seu canto, Julian mal desgrudou os olhos da tela; os mais chegados tiveram que ir até ele para dar um rápido abraço. Absorto, parecia enfeitiçado. Será que ele percebia que aquele momento definiria o resto da sua vida? Ou estava saboreando o exato momento em que a organização que fundara três anos antes atingia sua missão?
O propósito do WikiLeaks sempre foi encorajar whistleblowers – pessoas que presenciam ilegalidades ou imoralidades dentro de organizações poderosas e decidem denunciar, vazando documentos. “O compromisso do WikiLeaks com os ‘vazadores’ é buscar que a informação vazada alcance o maior impacto possível”, repetia Julian. Se alguém se arriscasse para entregar documentos sigilosos para o WikiLeaks, teria em troca a garantia de total sigilo. Além disso, Julian moveria céu e terra para que a informação fizesse um tremendo barulho.
Já tendo publicado dois vazamentos com o Guardian, Der Spiegel e New York Times, dessa vez Julian decidira que o Wikileaks publicaria reportagens no seu próprio site, escritas pela equipe que se reunia em Ellingham Hall. Respeitando o embargo dos outros jornais, o site se tornaria também fonte de informação, abordando temas e regiões que com certeza seriam deixados de lado pelo jornalismo tradicionalíssimo dos 5 parceiros – além dos acima, Le Monde e El Pais.
Era aí que a gente entrava.
Na Inglaterra, em pleno novembro, era quase sempre noite. Em volta do casarão, tudo se cobriu de neve. A rotina seguia intensa. O único alívio eram os jantares, com bom papo e bom vinho do porto, tradição que seguíamos todas as noites. A sala de jantar era a maior do casarão, cujo papel de parede vermelho servia para dar um ar ainda mais soturno. Ali, apoiadores de prato com os nomes de passados reis ingleses determinavam, toda noite – após uma literal dança das cadeiras entre os mais animados – quem ia se sentar onde. “Quem vai ser o James IV essa noite?”, brincávamos.
Foi em meio ao trabalho duro e brincadeiras que algumas das descobertas mais picantes foram feitas não dentro das redações dos principais jornais do mundo, mas nas salas frias de Ellingham Hall, quando nos aboletávamos no sofá em volta da lareira para poder trabalhar – o aquecimento central nunca era ligado.
Julian nos reunia de tempos em tempos para saber o que tínhamos encontrado. Àquela altura, além do grupo inicial, haviam se juntado a nós uma advogada guatemalteca, um jornalista sueco, outro jornalista inglês, e dois ativistas franceses.
O sueco Yohannes descreveu diversos encontros entre o primeiro ministro da Suécia e o embaixador americano, recebendo a total atenção de Julian, já sob alvo da justiça daquele país. Um dos telegramas mostrava como uma representante do governo pedia para os EUA manterem de maneira “informal” quaisquer evidências de compartilhamento de informação de inteligência para evitar escrutínio do parlamento. Dali em diante, o WikiLeaks chamaria a Suécia de “país pretensamente neutro” – a Suécia manteve durante nove anos um pedido de extradição para Assange ser interrogado no país sobre um caso de abuso sexual, mas acabou desistindo do caso em 2019.
A guatemalteca contava as diversas conspirações anti-chavistas que se davam nas embaixadas americanas. Por exemplo, Craig Kelly, o embaixador americano no Chile, chegou a escrever uma lista de estratégias para minar o poder de Hugo Chavez, o presidente da Venezuela. Já o governo colombiano compartilhava com a embaixada americana detalhes sobre operações ilegais no país vizinho, a Venezuela, para combater as Farc.
No Brasil, José Serra, em pré-campanha para a presidência contra Lula, lamentava a independência do governo petista em relação aos EUA, e prometia ter um governo mais próximo, caso fosse eleito em 2010. Serra também avisara às petroleiras americanas que queria mudar o modelo de partilha do Pré-Sal – naquela época por decisão dos governos petistas, apenas a Petrobras poderia liderar a extração, com no mínimo 30% da operação. De fato, foi ele o autor do projeto de lei que acabou com a exigência, dois meses depois do impeachment de Dilma Rousseff.
Mas foi o inglês James Ball, um jovem jornalista em ascensão, que tinha em mãos talvez o mais revelador dos documentos. Ele mostrava o mapa de instalações estratégicas para os EUA em países no mundo todo. No seu caso, nem precisamos esperar pela reunião geral. “Ah meu deus”, ele gritou, ao descobri-lo no meio da gigantesca base de dados. “Vejam isso, é um mapa da mina para terroristas!”.
Era um desses poucos gritos que faziam todo mundo da sala correr para rodear um só laptop, onde dava pra ver algum telegrama especialmente saboroso. No caso daquele telegrama, a polêmica sobre a sua publicação levou dias. James temia o que isso poderia causar. Assange sempre partia do pressuposto de que tudo devia ser publicado a princípio.
Assistir a esse debate entre o establishment britânico, incorporado por um jovem de 24 anos, e um ativista com tendências a esgarçar limites estabelecidos, beirando os 40, era saboroso de ver. Discussões em que todos se intrometiam, duravam dias, sempre mediados pela bela Sarah, sempre boa em contornar os pontos que chegam a um empate.
No final a “lista secreta de compras do Império” foi publicada em 5 de dezembro. O documento mostra que o Departamento de Estado americano pediu que diplomatas em todo o mundo fizessem uma lista das infraestruturas e recursos imprescindíveis aos EUA nos países onde trabalhavam. A lista final, reveladora, inclui oleodutos, centros de transporte e comunicações, minas e fábricas de produtos médicos. No Brasil, a principal preocupação dos EUA é com cabos de transmissão submarinos em Fortaleza (Americas II e GlobeNet), e com as minas gerenciadas pela britânica Rio Tinto Company em Minas Gerais e no Rio de Janeiro – fornecedoras de minério de ferro – além da Mina Catalão I, em Goiás, explorada pela Anglo American, que fornece nióbio.
Embora procurássemos evitar temas pesados no jantar, uma noite, Julian saiu-se com essa: “Esses documentos valem muito mais do que a minha vida. Ou a vida de qualquer um nesta mesa”. Seguiu-se, claro, um silêncio sepulcral.
Uma preocupação cortava o ar. Após o mandado de prisão pela Interpol, qual seria o próximo passo da Justiça Sueca? Pediria a extradição do Reino Unido – apenas para um questionamento? Com o pedido da Interpol ativo, a qualquer hora a Justiça britânica poderia também pedir sua cabeça – e aí ele seria considerado formalmente um fugitivo. E todos ali, ao redor daquela mesa, comparsas. “Eu deveria ter feito uma empresa, uma agência de notícias”, reclamava Julian, irritado. “Ninguém nos incomodaria se vendêssemos os documentos”. Mas não faria sentido nenhum, protestaram os outros. A discussão estendeu-se por horas. “As pessoas adoram empresas”, disse Julian.
Depois do vazamento, fiquei poucos dias em Ellingham Hall. Queria estar em casa o mais rápido possível. Havia um motivo simples – eu estava com medo. E outro motivo mais complexo. Queria ter tempo para refletir sobre o significado de tudo aquilo que eu estava vivendo. Desde a noite em que cheguei a Londres, uma aflição tomou conta de mim enquanto cortávamos as escuras estradas inglesas a caminho da mansão: e se eu não concordasse com tudo aquilo?
Embora eu acompanhasse de longe a proposta ousada do WikiLeaks, me arrepiava a ideia de ler relatos de conversas alheias. Pipocavam na minha cabeça questionamentos que hoje estão superados na discussão no jornalismo investigativo, mas me pareciam urgentes. Eu tinha direito de ler aquelas correspondências? E se o conteúdo não fosse de interesse público? Onde termina o jornalismo e começa o voyeurismo? E como avaliar se o que diziam os políticos, a portas fechadas, era verdade ou mentira? Quais os limites factuais de um relato escrito por um embaixador gringo em terras alheias?
Meus receios se dissiparam quando eu mergulhei nos documentos da embaixada e consulados brasileiros, que efetivamente contavam a história recente do meu país. Se aquilo não era informação de interesse público, eu não saberia dizer o que é.
Muitas vezes, um telegrama era apenas um fiozinho de uma meada que eu ia puxando, um prazer específico que apenas os jornalistas investigativos conhecem. Foi assim por exemplo com a revelação sobre a transferência secreta dos agentes da DEA expulsos da Bolívia por espionagem em 2008 para o Brasil, em silêncio, na surdina – e com o apoio do Ministério da Justiça de Lula e do governo boliviano.
Assim, no dia 1 de dezembro, levei minhas anotações e uma cópia dos documentos para viajar comigo. Após uma penosa aula de criptografia – era a primeira vez que usava a tecnologia – eu garanti que levaria o arquivo criptografado, para minha própria segurança. Menti. Deu um pânico de chegar ao Brasil, depois de toda a odisseia, e não conseguir abrir os arquivos. Ou esquecer a senha. Passei dias considerando o que fazer. Na última hora, com Julian dormindo e sem tempo de fazer o procedimento de segurança, decidi levar do “jeitinho latino”, como proclamou a minha amiga guatemalteca. Assim, contra as melhores práticas de segurança digital – e ao qual eu só me perdoo porque era ainda uma iniciante nelas – o arquivo veio aberto até São Paulo.
Parti, de trem, agarrada à mochila. Foram horas longas, contornadas pela neve que me seguiu até a capital. Em Londres, causou um caos enorme: os trens não saíam das estações, os ônibus fugiam da rota usual. Consegui um ônibus até o bairro periférico onde passaria a noite, mas ele me deixou a meia hora do meu destino final. Fui andando, arrastando a mala sobre os bocados de gelo que se formavam na calçada. Mal dormi na casa de uma amiga brasileira, jornalista, que arregalou os olhos e me encharcou de perguntas. “Você está metida nisso aí, não é”? Eu escutaria aquilo muitas vezes.
Levei o pendrive dentro de uma trouxa de roupa suja e embarquei em um voo JJ8085 da TAM no aeroporto de Heathrow às 20:45 do dia 1, com destino a Guarulhos, São Paulo. Modestos, nem o meu pendrive nem a minha postura de mochileira chamaram atenção. Pudera; as atenções estavam longe dali.
Naquela mesma hora, no Frontline Club, em Londres, representantes do WikiLeaks participavam de um debate sobre o seu mais ousado vazamento, uma espécie de conferência de imprensa que já incluía pontos de vista opostos.
As perguntas dos jornalistas ao islandês Kristinn Hrafnsson, porta-voz do WikiLeaks, e a James Ball – que haviam vindo diretamente de Ellingham Hall – eram seguidas por críticas duras dos outros integrantes da mesa. Para o “Sir” Richard Dalton, ex-embaixador do Reino Unido no Irã e na Líbia, era justamente o segredo da diplomacia que havia tornado o mundo mais seguro. “Por exemplo. Todo mundo concorda com a necessidade de reduzir o risco de proliferação de armas nucleares no Irã. Um grupo de homens e mulheres nos EUA e no Irã querem conseguir uma maneira de progredir nas negociações, como você protege as suas ideias de serem reveladas prematuramente de maneira a matar a iniciativa? A resposta é: o segredo. Muitas dessas informações não pertencem ao domínio público”.
O ápice do evento veio com a esquisita pergunta da repórter do canal de TV americano CBS News. Vinha na esteira da defesa de James Ball a respeito do vazamento, dizendo que ele mostrara como o mundo estava operando de fato. “Por que vocês se acham melhores juízes [para decidir o que deve ser publicado ou não] do que governos democraticamente eleitos?”. James explicou que havia mais de cem jornalistas dos veículos mais estabelecidos do mundo trabalhando com os documentos. E lembrou que os Papéis do Pentágono foram publicados através da imprensa.
– Mas eles tinham um objetivo contra uma política específica, e vocês não têm – argumentou a repórter.
– Veja, há um consenso a favor da transparência nos Estados Unidos. Se um cidadão americano – ou qualquer cidadão do mundo – quer entrar nos Estados Unidos, os Estados Unidos pedem para vê-lo nu. A transparência não funciona nos dois sentidos?
A resposta arrancou risos e palmas da plateia.
Agarrada à mochila, passei tremendo pela checagem do aeroporto. Era a primeira vez que alguém levava cópias dos documentos para a América do Sul. Meses depois, o editor do El Espectador faria a mesma trajetória para levar 16 mil cabos para a Colômbia, e repetia o que eu sentia: “Todo esse romance de espionagem, que o Wikileaks coloca você para viver, me deixa um tanto paranoico”.
Ainda bem que não me fizeram nenhuma pergunta, e pude calmamente esperar o avião. No desembarque no aeroporto de Guarulhos, de novo o frio na espinha. À toa. Meu namorado, que tinha ficado de me buscar, não estava. Fiquei sozinha, talvez mais sozinha do que antes, mais sozinha do que nunca, na balbúrdia do aeroporto. Na espera, soube pela internet no celular que o site do WikiLeaks estava fora do ar.
A empresa Amazon, provedora do servidor, retirou-o do ar sem maiores avisos, 24 horas após ser contactada pelo senador democrata Joe Lieberman, então presidente do Comitê de Segurança Nacional do Senado americano. Àquela altura centenas de sites-espelhos reproduziam o conteúdo do Cablegate já liberado, e quem quisesse acessá-los apenas tinha que buscar pela internet.
A Amazon de Jeff Bezos foi a segunda big tech a ceder às pressões políticas. Dias depois, era a vez do serviço de pagamentos PayPal, fundado pelo bilionário Pierre Omydiar, fazer o mesmo. Seguiram-se os cartões de crédito Visa e Mastercard. No dia 7 de dezembro, esses serviços conseguiram impor um bloqueio a todas as doações ao WikiLeaks. Atacavam no âmago uma iniciativa que fora cuidadosamente pensada para ser imbatível. Naqueles dias, não se falava de outra coisa, multiplicando as doações para que Julian e a equipe seguissem fazendo o seu trabalho. Nas 24 horas que antecederam a suspensão dos pagamentos por cartão de crédito, as doações chegaram a 80 mil libras.
Quando o meu namorado chegou, enfurnados no trânsito de São Paulo, pude pela primeira vez respirar contar um pouco sobre o que havíamos feito. Não tinha muito claro, ainda, o que seria de mim, nem dos documentos. Eu precisava organizar tudo para o verdadeiro vazamento.
Para isso, precisava de um QG longe de minha casa, isolado, onde eu pudesse trabalhar 24 horas por dia lidando com todas as demandas que surgiriam. Seu pequeniníssimo apartamento no centro de São Paulo, próximo à rua Frei Caneca, foi o lugar escolhido. Havia porteiro, elevador, câmeras. Ninguém poderia invadir o local e me arrastar para fora na calada da noite. Não havendo telefone, era mais difícil a turba de jornalistas me encontrar. Até a janela era pequena – e naquele momento o mundo lá fora era o que menos me importava.
Passamos na minha casa, onde estavam as duas amigas que moravam comigo. Não tive muito tempo para conversar com elas. Sim, eu estava por trás do vazamento. Todos se preocupavam com minha segurança. Agarrei algumas roupas, enfiei em uma mala, e fomos.
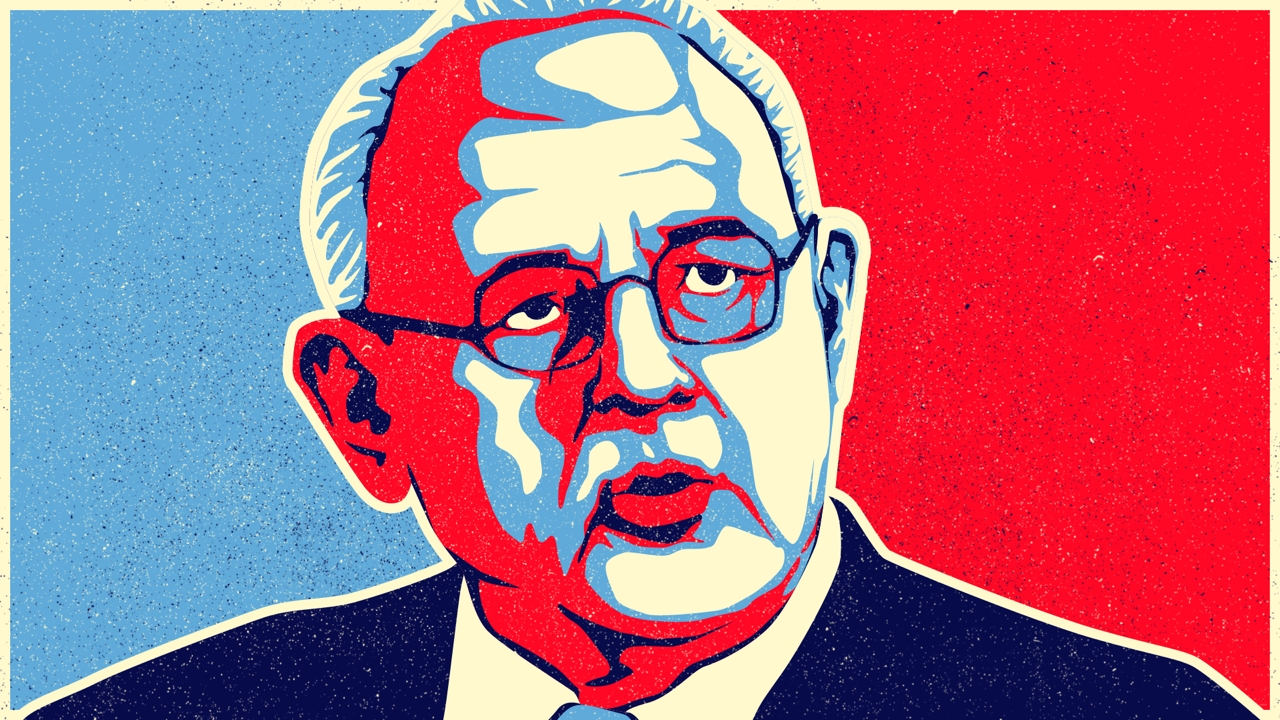
Nelson Jobim - Ilustração: Helton Mattei/Agência Pública
À noite, pela primeira vez, acompanhei o noticiário da TV e acessei com calma a internet. Toda minha aflição se desfez. Era maior do que eu imaginava. Mas eu sabia exatamente o que devia fazer.
À noite, todos os jornais mancheteavam o mais recente vazamento do WikiLeaks. Todos, sem exceção, abriam com a reportagem da Folha – no dia anterior a chamada era “EUA criticam submarino [nuclear] e estratégia [de defesa] de brasileiros”. Naquele dia, o foco eram as Olimpíadas que aconteceriam no Rio de Janeiro em 2016: “Brasil teme terror em 2016, dizem americanos” – e a seguir mostravam aquele emaranhado de repórteres perguntando ao ministro do exterior Celso Amorim se as histórias eram verdadeiras. Amorim reconheceu que os EUA haviam buscado o Itamaraty para que o Brasil recebesse prisioneiros de Guantánamo. “Negamos, claro”. Sobre Jobim – apontado como “amigo” dos americanos e crítico do Itamaraty – Lula afirmou: “Não sou obrigado a acreditar em um telegrama de um embaixador americano ao invés de acreditar no meu ministro. Por que eu tenho que acreditar num americano?”
Ao lado de Wiliam Waack, Cristiane Pelajo dizia no Jornal da Globo a Heraldo Barbosa: “é, Heraldo, mas tem muito documento ainda a ser revelado, documentos do Brasil que ainda não saíram né?” ao que ele respondia “Cristiane, eu tenho aqui alguns números que são lenha na fogueira. Consta que do total de documentos vazados, 3070 tiveram origem no Brasil. Deles há 1470 confidenciais ou secretos. Como até agora apenas 10 são conhecidos e já deu todo esse drama, imagina quando os mais de 1400 vierem a público? Vai ficar difícil para diplomata americano ter conversas reservadas com autoridades brasileiras. Jantar, almoçar café... pelo jeito acabaram”. Waack deu risada: “Diplomata passando a pão e água”. “E sozinho”, complementou Pelajo.
E assim as histórias que eu havia colhido nas noites diante da lareira foram criando vida, repercutindo, pautando a mídia nacional: jornais, rádio, TVs. Agitavam todas as redações do país. Viraram conversa de bar. Eu tinha 30 anos. E enquanto comentaristas apostavam o que mais haveria no balaio do WikiLeaks, era só eu, jornalista independente – sem veículo, sem patrão – quem tinha a resposta.
Nenhum comentário:
Postar um comentário